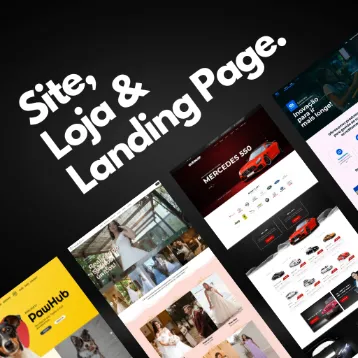Taxa de morte por câncer infantil no Brasil é duas vezes a dos EUA

A falta de diagnóstico precoce e de acesso a tratamento especializado faz com que a taxa de mortalidade do câncer infantojuvenil no Brasil seja o dobro da verificada em países desenvolvidos.
A média brasileira está em 43,4 mortes por milhão, um patamar que permanece estagnado há 20 anos e com grandes disparidades regionais e de raça/cor. Nos EUA, a média é 22 mortes por milhão.
Enquanto estados como Bahia, Minas Gerais e São Paulo exibem taxas próximas a 40 óbitos por milhão, Piauí, Roraima e Amapá quase batem em 60 por milhão.
Há serviços oncológicos na região Sudeste com taxas de sobrevida compatíveis aos de países desenvolvidos —80% ou mais. Já outros nas regiões Centro Oeste e Norte estão abaixo de 50%.
Entre crianças e adolescentes indígenas, a taxa de mortes chega a ser 58% acima da média nacional —67,7 por milhão.
Os dados são até 2019 e constam em um levantamento inédito sobre o panorama da oncologia pediátrica no país, realizado pelo Instituto Desiderata, com apoio técnico de profissionais da Fundação do Câncer, do Instituto Nacional de Câncer e da Iniciativa Global da Organização Mundial da Saúde para o Câncer Infantil na América Latina e Caribe.
Há preocupação adicional dos especialistas com o impacto da pandemia de Covid-19 no atendimento a crianças e adolescentes com câncer. Existem relatos de que em 2020 houve atrasos no encaminhamento de casos suspeitos, cancelamento de procedimentos ou mesmo a demora pela procura de tratamento, o que pode diminuir as chances de sobrevida.
Lançado em um fórum oncológico há duas semanas, o documento integra uma série de ações dentro de uma iniciativa global da OMS (Organização Mundial da Saúde) que busca diminuir as disparidades regionais e aumentar as chances de sobreviver ao câncer infantil.
A meta da iniciativa é atingir 60% de sobrevivência no câncer infantojuvenil até 2030. O Ministério da Saúde designou pessoas para acompanhar a articulação, mas ainda não assinou o compromisso.
Apesar de representar apenas de 2% a 3% do total dos casos de tumores diagnosticados no Brasil, o câncer é a principal causa de morte por doenças entre zero e 19 anos —só perde para as mortes violentas. São cerca de 8.500 novos casos anuais.
Na iniciativa global, há uma série de ações preconizadas como capacitação da atenção primária para reconhecer sinais da doença e encaminhar a pessoa rapidamente para concluir o diagnóstico, além do acesso a centros de tratamento de excelência e terapias necessárias.
Também se discute a necessidade de benefícios sociais para que não haja abandono do tratamento. Como muitas crianças precisam sair de suas cidades para se tratar, o pai ou a mãe precisa abandonar o emprego ou o resto da família e não há como se bancar longe de casa.
Nas regiões Norte e Centro Oeste, há um menor número de serviços habilitados e médicos especializados em oncologia pediátrica. Com isso, há um grande fluxo de pacientes em direção a São Paulo.
De todas as crianças que deixam seu estado de origem e vão para outro para receber tratamento, 70,4% acabam em São Paulo.
“Essas crianças enfrentam grandes problemas de deslocamento para que possam ter seu tratamento em centros especializados. Precisamos pensar em políticas que possam trazer mais equidade de tratamento”, disse Neviçolino Pereira de Carvalho Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, na abertura do fórum.
Segundo Roberta Costa Marques, diretora-executiva do Desiderata, todo o movimento é no sentido de tentar melhorar a eficiência e a organização dos serviços oncológicos, especialmente os públicos.
O panorama oncológico mostra vários problemas relacionados à assistência adequada. Por exemplo: 43% dos pacientes entre 15 e 19 anos foram tratados em hospitais sem habilitação em oncologia pediátrica.
Orientações nacionais e internacionais indicam o tratamento em centros especializados para esse público, mesmo que seja um adulto jovem.
“A oncologia pediátrica vai muito além dos 14, 15 anos, depende da característica do tumor. Tem gente que defende que até os 21 anos ainda é câncer infantil. Porque o protocolo de tratamento é o infantil, não é o de adulto.”
A mortalidade por câncer é maior entre os adolescentes (51,1/milhão), seguida de crianças de 0 a 4 anos (46,9/ milhão). Nas faixas etárias de 5 a 9 e 10 a 14, os valores são próximos: 37,9 e 37,1 por milhão, respectivamente.
O diagnóstico preciso dos tumores é um outro desafio no país: 8% deles foram classificados como neoplasias não especificadas nos RCBP (Registros de Câncer de Base Populacional). Nos Estados Unidos, esse valor é inferior a 1%.
A oncologista Maria Inez Gadelha, da secretaria de atenção especializada do Ministério da Saúde, diz ter ficado “deprimida e preocupada” com fato de que, a despeito de todos os esforços de organização e de financiamento dos serviços oncológicos pediátricos, as taxas de mortalidade se mantiveram estagnadas em patamares altos.
“Ainda que tenhamos taxas excelentes [em alguns centros], que correspondem a países desenvolvidos, no global, confesso a minha depressão pelas fragilidades do monitoramento e avaliação [dos centros oncológicos com resultados ruins].”
Para ela, a discussão fundamental agora é melhorar a capacidade instalada. “Não adianta criar novos centros.”
Rafael Dall Alba, consultor nacional em doenças não transmissíveis da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) lembrou que nos últimos anos houve enorme progresso nas terapias para o câncer infantil.
“No caso da leucemia aguda, 30 anos atrás era considerada inevitavelmente fatal. Atualmente é o câncer infantil mais frequente e com taxa de sobrevivência em cinco anos superior a 70%”, afirmou.
Mas os especialistas chamam a atenção para o fato de o país enfrentar o desabastecimento recorrente de quimioterápicos fundamentais para combater tumores pediátricos —o que impacta diretamente nas estratégias de tratamento.
Segundo o oncologista pediátrico Claudio Galvão de Castro Júnior, do Hospital São Camilo (de São Paulo), o maior problema continua sendo os medicamentos antigos, que estão desaparecendo do mercado por serem muito baratos e, por isso, não despertar mais o interesse das farmacêuticas, associados a problemas de distribuição, legislação, carga tributária e a dificuldades nas plantas de fabricação.
Os substitutos dessas drogas, quando existem, são muito caros, o que inviabiliza o acesso. Um exemplo é a bleomicina, fundamental no tratamento do linfoma de Hodgkin, que custava R$ 240 e que sumiu do mercado. Seu substituto é o brentuximabe, que custa cerca de R$ 18 mil.
“Temos denunciado isso há uma década, mas nada de concreto foi feito. Agora, com a pandemia, a discussão parou de vez”, diz Castro Júnior.
Para o oncologista Gelcio Luiz Quintella, do Inca (Instituto Nacional do Câncer), o cuidado integral da criança com câncer também precisa ser estendido para os sobreviventes e para as sequelas tardias do tratamento, como complicações cardiovasculares e metabólicas.
Não menos importante, segundo ele, são os cuidados paliativos, voltados para as crianças sem chances de cura. “Essa discussão já está mais avançada no câncer adulto, mas não no infantojuvenil.” (Bahia Notícias)